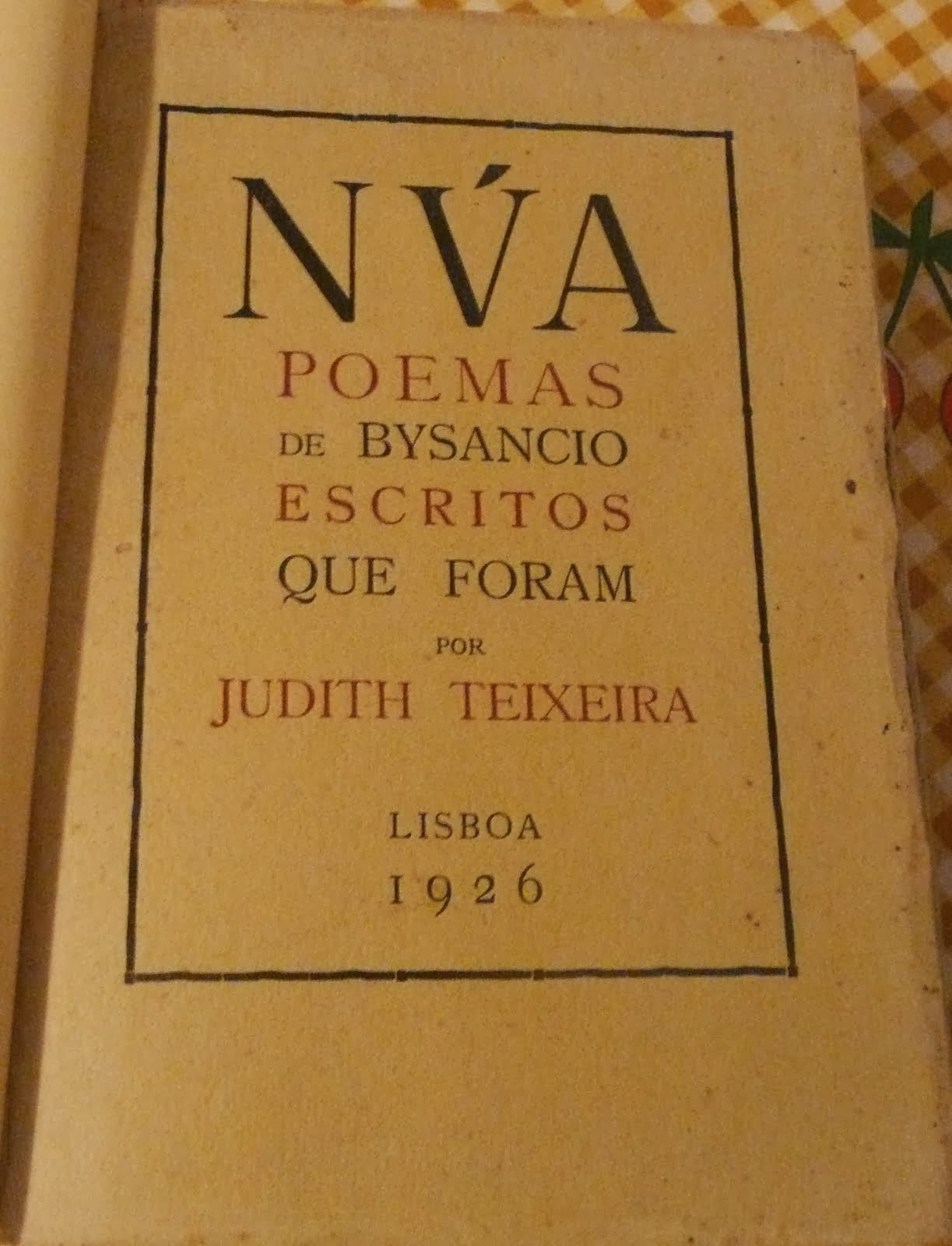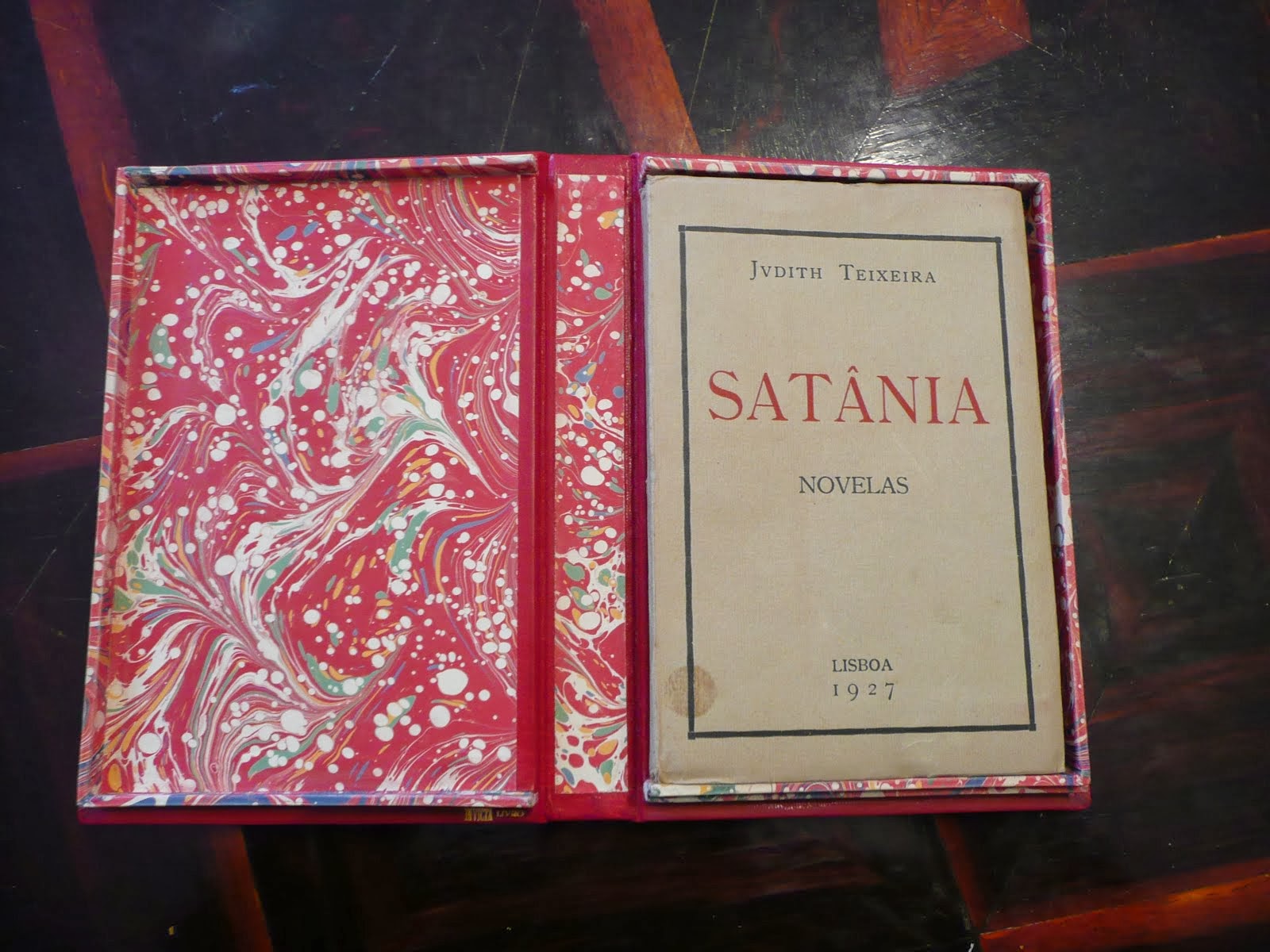JUDITH
TEIXEIRA: O CORPO INSÓLITO
Martim
de Gouveia e Sousa
ESAM – Escola Secundária Alves Martins (Viseu)
resumo
Violentando o tempo e o
espaço consentido como um programa de libertação, Judith Teixeira afirma desde
o início da década de vinte do século passado ter direito ao corpo e à palavra
literária. Marcando pelo insólito os caminhos da subversão das representações
do mapa corporal, dizendo-se sujeito sem sujeição e corpo impresso, Judith
Teixeira é e continuará a ser resistência, fulgor e perenidade.
palavras-chave:
modernismo literário português – Judith Teixeira – corpo e transformação - perenidade
Eu
já estive preso umas vezes em condições decerto menos honrosas – (1) por causa
do meu sexo, coisa ilegal, por enquanto. E sempre me perguntei à entrada e à
saída, como é possível que haja gente no mundo capaz de achar um sexo coisa
ilegal!
(1)
Parece.
0.
Quando
Manuela Amaral, cerca de um ano depois da morte de Judith Teixeira, vê
publicados na revista ilustrada Selecções
Femininas,
publicação de grande voga dirigida por Berta de Sá, dois poemas retirados do
seu primeiro livro Madrugadas (1957),
fazia inscrever, certamente por casualidade significante, uma marco geodésico
sobre o ocaso de uma poetisa denegada pela instituição literária, assinalando
no passo uma estrada que era testemunho e denegação – concentrando como poeta
nascente, na exuberância dos vinte cinco anos, a tradição decetiva sobre a
assunção do corpo criador e criado que Judith legava, Manuela Amaral assumia o
risco do silêncio e da incompreensão. Mas abraçava o testemunho com a sua
condição e com uma voz ousada e, talvez por isso, treslida, à época. Quem
poderia, pois, compreender naqueles poemas da coluna «Folhas Soltas», os versos
clamando por «Um amor que cegasse o próprio Mundo» e aquela pungente espera por
um «Amor que não existe!!!»?!
1.
o lugar Violentando o tempo e o espaço, Judith
Teixeira nasceu em Viseu, em 1880. Ela, a Fénix! Fénix, repito! Três vezes
Fénix! Em Viseu, em voragem de dois séculos, ali por 1880 ninguém sonhava, em
terra escassa de muita província, poder vir a assistir no friso cronológico a
assunto de taumaturgia. Nascente, um indominável corpo, uma pletórica voz,
visando ao centro, entrou no mundo para ser sujeito e não para sujeitar-se,
para parafrasear as belíssimas lexias de Manuel Sumares. Ou então, em registo
supletivíssimo, encaixe-se a vontade judithiana na perplexidade de Wittgenstein
que é diagnóstico e oposição:
6. Há uma espécie de doença geral
do pensamento que procura sempre (e encontra) o que se chamaria um estado
mental, a partir do qual os nossos atos brotam como que de um reservatório.
Assim, diz-se ‘A moda muda porque o gosto das pessoas muda’. O gosto é o
reservatório mental. Mas se um alfaiate conceber um corte de vestido diferente
daquele que tinha concebido há um ano, não poderá aquilo que se chama a sua mudança
de gosto ter consistido, parcial ou totalmente, em fazer exatamente isto?
Sem
reservatório, a incisão cultural da autora de Decadência é espontânea e visceral, inscrevendo-se no corpo, com o
corpo, moldando um lugar que era um lugar
vindo de trás de uma pequena circunscrição.
O lugar de
Judith Teixeira era isto: um território de província moldado pela aridez que
assistia a um nascimento anónimo ocorrido, sem hesitações, no dia 25 de janeiro
de 1880, como consta em vários documentos legais Em
volta, poucos anos passados, um álbum literário de nome Vizeu Illustrado chamaria à colaboração 29 senhoras e
89 cavalheiros, como que abrindo um caminho para o próximo século, se pensarmos
nos índices, para a época elevados, de escritoras – mais de trinta por cento.
Que era, pois, o lugar, ao tempo de Judith?
Assim diz o
literário álbum: «A cidade de Vizeu é uma das mais antigas de Portugal, podendo
a este respeito competir com as que mais se abonam em primazia de vetustez.»
Antiguidade, tradição e cerca de 9000 habitantes, eis a cidade em que Judith nasceu
para o mundo. Era um tempo de conselheiros e regeneradores, condes e viscondes,
liceu nacional e ensino primário elementar, furtos e quadrilhas, touradas e
cornúpetos, leques japoneses e cirurgiões dentistas, cortes e chapéus,
sardinheiras e desvalidos. Os sítios e os lugares davam-se por nomes como Rua
D. Maria Pia e Campo de Viriato, Praça de Camões e Largo da Sé, Passeio D.
Fernando e Rua da Cadeia, Ribeira e Largo do Convento, e o comércio crescia à
sombra da catedral, onde despontavam tipografias, agências de viagens e
papelarias.
Em 1898, andava
Judith Teixeira pelos dezoito anos, eis que Viseu explode num primeiro sinal: o
“Theatro Folias”, estabelecido num barracão no Campo de Viriato, causava
estranho alvoroço na vida familiar dos viseenses porque uma “beleza seductora”
da companhia aí atraía a concorrência de cavalheiros. Assim o refere O Commercio de Vizeu de 17 de julho de
1898:
O que
opera o milagre é a beleza seductora da primeira dama que traz tudo doido!
É uma
mulher alta, elegante, de bellos olhos e cabellos negros, bôcca ligeiramente
comprida para deixar ver um recorte lubrico e uns dentes brancos como perolas.
Para melhor destacar este conjuncto de feições, que são uma verdadeira
malagueta, serve-lhes de caixilho um ligeiro buço e duas encantadoras
suissasinhas que parecem pintadas. E digam-nos se ha quem resista a isto?!
Um quartel à
frente, em Lisboa, Judith Teixeira incendiaria a casa da poesia com a
coreografia da ocupação dos espaços sonegados. Emblematicamente, no rasto
ovidiano, podia Pigmalião exultar, dizendo: “É um corpo!”
2.
o
problema do corpo Desinserido e só acompanhado na
explicitude por uma Florbela Espanca (1894-1930), uma Virgínia Vitorino
(1898-1969) ou uma Beatriz Delgado (1900-),
o projeto artístico de Judith Teixeira (1880-1959) é literatura e corpo
impresso, alicerçando a escritora o seu objetivo de afirmar uma corporalidade
significativa através da disseminação de marcas subversivas e codificadas. Só
por acidente que não propriamente pela quebra do rigor poético se viu Judith
Teixeira envolvida na polémica da chamada literatura de Sodoma, tanto mais que,
como veremos, o comum dos estranhos leitores do tempo não se apercebeu da
complexa estrutura da mensagem poética e corporal inscrita, abundante de
metásteses homoeróticas, e tão só apanhou a propalada pele de «desavergonhada»
por alguns versos mais explícitos. Não fosse a reação musculada de Pessoa
defendendo apenas os seus amigos homens e talvez este episódio de moralidade e
costumes fosse menos conhecido.
Vestindo e
desvestindo a pele, mostrando e escondendo mostrando, a poesia de Judith
Teixeira apresenta um corpo insólito, mutante e diferente, que vai assumindo
vertentes teratológicas e excecionais. Há, nesta estratégia de fechar e
codificar para mostrar os foros de sexualidade desejados (intensos e
mostrativos quadros homoeróticos), uma vivência interior, escrutinada por
entendedores, que é, de algum modo, para usar o título de uma coleção de consagrados
ensaios de Slavoj Žižek,
uma metástase do gozo que permite que
o sujeito poético seja o que não é e, desmultiplicando-se, se assuma como
sujeito conduzindo um programa de libertação e assunção. Edificando-se,
construindo-se sempre, a poesia advinda de um eu lírico consciente e assertivo
continuará, assim, a procriar dentro de «casa da beleza» que Walter Pater
tão bem assinalou e inscreveu desde há muito no novo, já velho, cânone
literário.
Na necessidade
de ser apenas ela própria, rompendo com enganos e falsidades, a escritora
portuguesa debatia-se também com as incisivas palavras que Virginia Woolf
fixaria, um pouco à frente, num discurso proferido em 21 de janeiro de 1931
para a National Society for Women’s Service, sob o
título “Professions for Women”. Assim dizia a intelectual inglesa: “ Indeed it will be a long time still, I think, before a
woman can sit down to write a book without finding a phantom to be slain, a
rock to be dashed against.”
Reclamando-se do corpo, sendo-o, Judith Teixeira não poderia ainda ser exemplo
para Woolf. Mas foi um exemplo, como o comprova esta página sobre o corpo.
2.1.
corpo
esquecido Perto, demasiado
perto da dor («Eu ando tão cansada de sofrer», D), sofrendo, porque vivendo ao lado, fora do projeto amoroso
escolhido, tantas vezes isolado («tão sem ninguém», D),
o sujeito lírico apaga-se para mostrar o seu drama («Sou a amargura em recorte
/ numa sombra diluída.», D.). Banido,
expulso, o corpo poético vive os rituais do esquecimento e decanta a sua
exclusão em azedo sofrimento: “Fechei os olhos febris / macerados, espavoridos…
- / Nem a própria Morte os quis!” (D.).
2.2.
corpo
queimado Atirado às
chamas («Ando a queimar-me», D), o
corpo do sujeito emissor mostrará o que não mais poderá ser apagado – a marca
inconsútil de uma opção erótica. Ainda assim, a dispersão e o fingimento
convenientes, simbolizados na pele intocada, continuam a constituir obstáculo e
cortina. Afinal, quem pode ver a «Vida de eterno conflito» (D) sem ver a pele reversa queimada ou os
“olhos em fogo” (D.), assinalando um
outro amor? Tal deformação da pele queimada, sopesada por José Gil a propósito
de certos contos populares, tem aqui plena aplicabilidade. Assim diz o
filósofo: «A pele (que se despe ou veste, ou que frequentemente se queima) é a
própria monstruosidade.» Decantam-se pelo corpus judithiano, em acúmulo, lexias como “reflexos de fogo”,
“ardente”, “encandescido”, “abrasava” ou “inferno” que retiro de Decadência, em modo exemplificativo.
2.3.
corpo
aprisionado Afirmando-se por via cordial «um triste
prisioneiro / dentro dum cárcere maldito!» (D.),
o corpo do emissor lírico aparece bloqueado, mostrando, nessa opacidade, uma
limpidez significativa – o aprisionamento afirma, inelutavelmente, a liberdade
relacional, o grito de revolta e a alegria breve da mudança. Mesmo atado, o
sujeito revolta-se e afirma o lugar que não quer, em claros desejos evasivos
(“Foge-me tudo, que eu procuro e quero!”, D.).
Admonitória, a voz poética inscreve o aprisionamento e as inibições,
deixando-nos à porta da superação, como acontece no único poema que usarei que
não é da primeira coletânea poética de Judith Teixeira (tudo neste ensaio
assume a vontade da exemplificação e a certeza da incompletude) – refiro-me à
primeira composição de Castelo de Sombras,
“Ninguém”, e à última estrofe: “Encontro apenas / o tumultuar dum coração /
aprisionado dentro do meu peito / aos saltos como um louco.”
2.4.
corpo
visceral Na poesia de Judith Teixeira, os corações aparecem
esfacelados e sangrantes (v. g., «Ó
meu esfacelado coração!» e “são corações a sangrar…”, em D.), os olhos emurchecidos (“os olhos roxos como um lírio”, D.)
e macerados (“meus olhos macerados”, D.),
os
corpos ensanguentados (“E morderam-se as bocas abrasadas, / em contorções de
fúria, ensanguentadas!”, D.), os
nervos em rutura (“Nem sentem os meus nervos estalar!”, D.), deflagrando-se em tensão nevrótica (“nervos delicados” e
“Trago nos nervos a morte!”, D.). Outras vezes, a metamorfose visceral assume a pregnância
do exangue, como acontece, verbi gratia,
nos versos “Ficou-me o peito a sangrar, / da chaga onde me roía, a Hidra” e
“boca exangue” (D.), ou, de outro
modo, assume o corpo um ritmo transbordante (“Sinto latejar as veias”, D.) e incontido, avançando até ao
esmagamento (“depois esmaguei / o coração”, D.).
2.5.
corpo
enlouquecido Mutante, um corpo assim vai assumindo
esgares significativos e marcas corporais que são símbolos de diferença e
afirmação – como uma placa de trânsito, as palavras mostram e assinalam: «Sou o
Castigo fatal / dum negro crime ancestral, / em convulsões de loucura!» (D.). Perto do paroxismo, o corpo
entrega-se ao estridor dos sentidos: “A rubra dor / do sensualismo, / no ardor
/ de cada paroxismo…” (D.). Tal
propensão, diga-se, é estratégica e visa instalar a diferença, como se o
sujeito poético quisesse dizer ‘isto não é isto’ ou ‘nem só o que é visto como
normal é normal’. Ouça-se, no encaixe, Mikhaïl Bakhtine, uma das maiores
figuras críticas do grotesco:
Le
motif de la folie, par exemple, est três caractéristique de tout grotesque,
puisqu’il permet de poser sur le monde un regard différent, non troublé par le
point de vue “normal”, c’est-à-dire par les idées et les appréciations
communes.
E assim o corpo,
em tensão especular, é marca, sinal infungível que se revela pela deformação.
2.6.
corpo
incarnado Descentrado, sem focalização, o corpo do sujeito
poético evola-se e transforma-se, outrando-se («Eu sou a alma penada / de outra
que foi desgraçada!», «Achei-me dentro de ti.» ou “aquela que vive em mim”, D.). Projeta-se até para fora de si,
nesse exterior plasmando as íntimas metamorfoses, como acontece, por exemplo,
no poema “O anão da máscara verde», nos versos “O silêncio fala / balançando os
esguios esqueletos / das árvores desgrenhadas!” (D.) ou na presença de “um fulvo anão, de máscara verde” (D.).
2.7.
corpo
oblato Dando-se, sendo bandeira, o selo do homoerotismo
levanta-se do texto e presentifica-se em explicitude das palavras textuais:
«deixa-me sonhar… / Delirar» (D.). Entrega-se ainda o corpo ao curso
vivencial, sendo dádiva e libertação: “- E eu tenho uma enorme sede de viver!”
(D.). Acontece até que tal
oblatividade pode aparecer, pontualmente, sob o signo da evasão e da
transmigração: “sempre me traz ao sentido / o corpo abandonado / da favorita
dum Radjah!” (D.).
2.8.
corpo
evadido Negado o presente, embora sabiamente assinalada a
impossibilidade, é o passado uma junção ancestral para onde o corpo do sujeito
poético se projeta («eu fui talvez no passado…», D.), evadindo-se de um presente castrador e mesquinhamente modelar
(“fujo levando / o meu Chinês comigo!/ […] realizar / as horas sensuais, / as
horas delirantes / com que eu sonhei…”, D.) . Clamando, clamando sempre o sujeito
lírico judithiano declara: “Quero fugir a este inferno!” (D.). Em abismo, o corpo negado devém loucura e inconsciência: “Anda
a loucura a desgrenhar-
-me - / o corpo e o pensamento…”
(D.) ou então, libertando-se, devém o
sujeito poético um ser finalmente assumido, evadido sem dor de prisões
atávicas, como o comprova a belíssima estância da composição “Liberta”:
“Noutros cenários a minha alma vive! / Outros caminhos… / Por outras luzes iluminada!
/ - Eu vim daquele mundo onde estive, / tanto tempo emparedada…” (D.). Este desejo afirmativo de
verticalidade e verdade assume-o o sujeito poético no fascinante e emblemático
derradeiro poema de Decadência intitulado
“Última frase”: “Minha alma ergueu-se para além de ti… / Tive ânsia de mais
alto / - abri as asas, parti!”
2.9.
corpo
iluminado Deflagrando pelo avesso da pele a força erótica de
um emissor lesbianista e cultor de uma erótica pouco aceite, não ousa a malha
textual silenciar uma legítima opção de amor. Assim acontece, por exemplo, no
“escandaloso» e belíssimo poema “A Estátua” (D.), que Luís Manuel Gaspar
brilhantemente ilustrou em 1996 para um artigo de António Manuel Couto Viana,
se pensarmos na entrada “O teu corpo branco e esguio / prendeu todo o meu
sentido” ou no explicit “Tens nos
seios de bicos acerados, / num tormento, / a singular razão dos meus
cuidados!”. Ou então, no poema “Ao espelho” de Decadência os versos “procura ir beijar / o seio branco e erguido”.
Ou ainda estoutro, de título “Venere
Coricata”, que permite colher o último verso “o seio nu, de bicos enristados!”
(D).
2.10.
corpo
sacrificado Ascendentes, todas as limitações, frustrações
e impossibilidades confluem para um quadro onde os inconseguimentos conduzem à
delapidação e ao sacrifício do corpo. Assim acontece, por exemplo, no poema
“Rosas vermelhas” (D.), onde o
sujeito poético desvela os seus ritos punitivos, defluentes dos mundos real e
onírico: “Toda a noite me piquei / nos seus agudos espinhos!”. Como agudos signos,
as cores são ainda “farpantes” (D.).
Outros cravejamentos, todavia, despontam aqui e além, sendo valiosa clave
aquele fecho do soneto “Madrugadas”: “E num frémito de louca / cravava na tua
boca / um beijo rubro de sangue!”. Mas não só: os nervos quebram-se “como
cordas ressequidas” e a pele enfrenta “mordeduras / de bocas encandescidas!” (D.).
2.11.
corpo
narcísico Como um espelho, assim o corpo e os seus desejos e
pulsões. Encontram-se na poesia de Judith Teixeira momentos de autoerotismo que
revelam a topografia do olhar e da sexualidade. Recriando o mito de Narciso, o
sujeito emissor reflete-se e observa-se no espelho: “Meu lindo corpo de Leda, /
fascina-me, enamorada / de todo o meu próprio encanto…” (D.) ou “Os meus magoados beijos / encontram sempre a própria boca /
banhada de luar / álgido e frio”. Veja-se ainda que a riquíssima última
exemplificação permite, em simultâneo, assinalar a preferência homoerótica e a
frieza recetiva da sociedade que não tolerava “desvios” ou “diferenças”.
2.12.
corpo
teratológico Monstruoso o tempo que assim se fechava
para uma voz quase única em tempo do fim. A década de vinte do século XX,
afinal, ressumava de impossibilidades e sonhos, que se queriam reais,
estranhamente delapidados por uma República agonizante e distante das promessas
feitas às mulheres. No ínterim, a polémica sobre a dita “literatura de Sodoma”
tornava o ar irrespirável. Asfixiados e controlados, o(s) corpo(s) poético(s)
de Judith Teixeira era(m) uma esplendecência fabulosa. A doxa societária,
incisiva e formatada pela conveniência, isolou a poetisa para que o seu caso se
visse melhor na sua nudez teratológica. Como codiciosamente o diz Jean-Jacques
Courtine, a história dos monstros “é também a dos olhares que recaíram sobre
eles, dos dispositivos materiais que inscreviam os corpos monstruosos num
regime peculiar de visibilidade, dos signos e das ficções que representavam,
mas também a história das emoções sentidas perante a disformidade humana.” Destacando
o objeto, os condutores dos ritos sociais lançam no quotidiano aquilo que
sentem ser anormal, para assim poderem mostrar as normas e os bons costumes.
Como diria um José Gil o monstro “é pensado como uma aberração da ‘realidade’
(a monstruosidade é um excesso da realidade) a fim de induzir, por oposição, a
crença na ‘necessidade da existência’ da normalidade humana.”
E
é assim neste contexto de um ser teratologizado
que topamos, como estratégia semiótica, com um corpo desvelando-se em
alongamentos (“dedos esguios”, “nos braços longos e finos”, “braços
desgarrados” e “mãos, esguias e nevróticas”, v. g., em D.), metamorfoses
cromáticas (“Doirado, fulvo, desmaiado / e vermelho, / tem reflexos de fogo o
meu cabelo!”, “olhos roxos” ou “Dizem que eu me embriago toda em cores”, D.), alterações (“encontro no meu todo,
um ar perverso…”, D.), estranhizações
(“o meu ser estranho e ardente…”, D.),
singularidades (“ao meu perfil incoerente / e singular…”, D.), bestializações (“na boca, felinos dentes // felinos e
aguçados, / lembravam lobos hiantes”, D.),
estilizações (“E as minhas mãos estilizadas”, D.), esmagamentos (“e eu fico desfeita, exangue!”, D.) e outras representações que são
máscara, codificação e ocultação, mas também revelação e amplificação. Teratologia,
subversão, caráter grotesco, eis apodos nominais que fazem o nome de Judith
Teixeira. Ainda assim, no “desequilíbrio” corporal da nossa escritora, há um
impulso estético que individualiza o mero grotesco: é que se, por um lado, na
criação judithiana abundam inusitadas e complexas figurações objetais e
sentimentais, por outro, sempre ressumam nos textos da intelectual sinais de uma
perfeita verticalidade, que se presentificam no vezo assuntivo (pense-se na
pregnância do eu discursivo desde as epígrafes de Decadência) e na pose erétil (objetos esguios, dedos e braços
longos e finos, etc…). Tal captação estratégica, afirmativa da insujeição
corporal e sexual, permite que vejamos nesses artifícios gestuais e posturais,
no sentido de Bachelard, “une somme de la pensée et du rêve”
da mulher literária. Continua, do meu
ponto de vista, a ser necessário “olhar para lá do sentido imediato para poder
descobrir a ‘verdadeira’ significação, que está oculta”.
E que se desvela, querendo-o nós, em trajetos surrealizantes e em resultados
decorrentes de uma lógica da sensação
que permite uma aproximação figurativa entre o mundo judithiano e as figuras
plasmadas pelo pintor Francis Bacon. De facto, e no sentido de Deleuze em
relação a uma certa particularidade de Bacon, há no palco poético de Judith
Teixeira um movimento outro que se acrescenta, proteticamente, ao corpo
existente. O diagnóstico é do pensador francês, aplicando-o eu, reverencial, à
produção judithiana. Ouça-se:
Mas o outro movimento, que
coexiste evidentemente com o primeiro, é pelo contrário o da Figura em direção
à estrutura material, em direção à superfície lisa. Desde o início, a Figura é
o corpo, e o corpo tem lugar dentro do recinto do círculo. Mas o corpo não
espera apenas algo da estrutura, espera algo em si mesmo, faz esforço em si
mesmo para devir Figura. Agora, é no corpo que alguma coisa se passa: o corpo é
fonte do movimento. Já não se trata do problema do lugar, mas antes do
acontecimento. Se há esforço, e esforço intenso, não é de modo algum um esforço
extraordinário, como se se tratasse de um empreendimento superior às forças do
corpo e que incidisse sobre um objeto distinto. O corpo esforça-se precisamente
– ou espera precisamente – por escapar. Não sou eu que tento escapar ao meu
corpo, é o corpo que tenta escapar ele próprio por… Em síntese, um espasmo: o
corpo como plexo, e o seu esforço ou a sua espera por um espasmo.
3.
uma
conclusão Ainda bem, e seguimos Hans-George Gadamer, que a
“consciência histórica já não escuta beatamente a voz que lhe chega do passado,
mas, refletindo sobre ela, recoloca-a no contexto de onde surgiu para verificar
a significação e o valor relativo que contém”.
E o resultado é bom para Judith Teixeira. Irradiando uma aura, ultrapassando
silêncios e limitações, a sua ação não cessa de nos espantar. Em volta,
nomeadamente nas últimas duas décadas e particularmente na que vivemos, somam-se
glosas, republicações, menções, homenagens, citações, trabalhos académicos e
multímodas inscrições que só podem querer dizer que há um lugar para Judith Teixeira
na literatura portuguesa. Pensando bem, o lugar estava lá, desocupado e
obnubilado pelas teias da ocultação. No esquecimento ficou um grito que era
metamorfose dentro do silêncio – experiente e experimentado um esplendente
corpo poético operou em fisicidade até a teratologia mostrando, no sentido de
Rilke, que os versos mais do que sentimentos são experiências. Sem fim, a obra
de Judith Teixeira destrói-se, produtiva. E nasce, nasce todos os dias, depois
de muitos dias de sono, no consonante grito de Cioran que assevera que “On ne
devrait écrire des livres que pour y dire des choses qu’on n’oserait confier à
personne.”
Assim se escreve e vai escrevendo o corpo insólito de Judith Teixeira. Marcando
pelo insólito os caminhos da subversão das representações do mapa corporal,
dizendo-se sujeito sem sujeição e corpo impresso, Judith Teixeira é e continuará
a ser resistência, fulgor e perenidade. Di-lo, por exemplo, o dito de Omar
Porras-Speck que deixo aqui como eco do fim: “Sans corps, pas de parole.”
Ouvir-se-á esta, vinda do centro do modernismo sáfico português, para usar a
belíssima proposição do malogrado e saudoso René Garay?